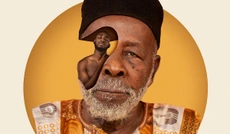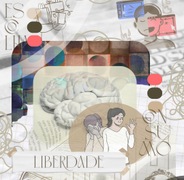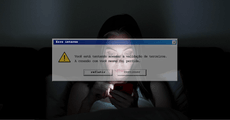Por Vaneska Cavalcante |
Entre Freud e a Cultura Contemporânea
Sigmund Freud inaugura com a psicanálise a terceira ruptura radical no que o próprio teórico chama de “o amor-próprio da humanidade” e essa ruptura se junta com as anteriores para escancarar a problemática do homem como onipotente. Em sua experiência atravessada pelo inconsciente e pelas determinações da cultura, o sujeito então é revelado por Freud como estrangeiro em sua própria morada. Contudo, na contemporaneidade o “furo” apontado por Freud foi tomado com uma possibilidade de ser tamponado com o consumo, transformando inclusive o autoconhecimento em mercadoria, com o discurso de otimização do eu, vende-se a promessa de domínio de si próprio - um retorno ao homem como centro do universo, agora mercantilizado.
Dito isso, a questão que levantamos é dupla: trata-se de uma leitura externa, em que existe uma tentativa de adaptação da teoria psicanalítica para responder às demandas do mercado e da gestão social sendo mais uma forma de docilizar os corpos, ou realmente está nos textos de Freud essa possibilidade de transformação dela em um saber positivo, funcional normativo, em determinados contextos?
Este artigo é uma tentativa de abrir uma discussão que começamos no “O sofrimento moderno como sintoma de uma sociedade que consome tudo — até o amor”. A problemática é avaliar se a psicanálise está também a serviço da lógica de produção e ganho, ou se ela ainda tem uma raiz de resistência e de subversão do imperativo de autossuficiência.
Freud e o limite do Eu
Diante dessa ‘tamponagem’ do furo freudiano pelo consumo e a consequente mercantilização do autoconhecimento, torna-se fundamental ressaltar a perspectiva original de Freud sobre os limites do Eu.
Em 1917 ao abordar as dificuldades encontradas pela psicanálise, ele dá a entender que a dificuldade de aceitação da psicanálise não é intelectual, ou seja, de impossibilidade de compreensão, mas que está relacionada, então, com a forma como a teoria psicanalítica parece afetar [causar efeitos] negativamente aqueles que entram em contato com a mesma.
As teorias psicológicas da época de Freud, por não se interessarem pelos adoecimentos neuróticos, davam respostas insatisfatórias para suas origens e tratamentos. Isto levou o pai da psicanálise à concepção popular como ponto de partida que divide instinto em dois âmbitos, de conservação e reprodução, sendo estes também interno e externo, conhecidos ou nomeados como fome e amor.
A partir desta dualidade, Freud vai pensar na dicotomia do instinto do Eu [ego] e do instinto Sexual chamando essa energia instintual/pulsional psíquica de libido. O instinto do Eu é a força relacionada à sobrevivência e a libido se direciona e visa o prazer e desprazer fora de si e não diretamente relacionado com sobrevivência, mesmo que também possa.
Com isso, a energia sexual ganha grande relevância para a compreensão e tratamento das neuroses, visto que com a existência dela (a libido), o Eu já não está mais sozinho como “senhor” de todos os afetos que tocam o sujeito e aí se dá a “terceira ferida narcísica” na humanidade. A razão não é mais a “pedra angular” da constituição humana, o homem que deixou à pouco de ser soberano perante os demais organismos da natureza se depara, no advento da psicanálise, com também não ser soberano sobre si mesmo. É justamente essa idéia de impotência sobre si mesmo e os seus próprios pensamentos que teria afastado a simpatia da maioria pela teoria no seu início.
Autoconhecimento: promessa ou miragem?
Se a psicanálise freudiana revela que o Eu não é senhor em sua própria morada, e que a soberania sobre si mesmo é uma ilusão: como sustentar o ideal moderno de autoconhecimento?
Freud desde 1914 já havia advertido que mesmo quando o sujeito se volta para dentro de si, sua consciência só tem acesso parcial e enviesada aos processos inconscientes. O máximo que pode obter é um saber fragmentado, marcado pelo “talvez” — e nunca uma certeza plena de si. Assim como reconhece e esclarece que essa libido direcionada para si é primária e constitutiva de todo sujeito.
O narcisismo pode ser lido como conceito que denuncia, mas também como normatizador de condutas ao ser criticado quando se retira do objeto externo e volta para si. Essa flutuação de libido entre a voltada para si e a direcionada para o objeto é primordial inclusive para a manutenção da constituição de sociedade e relações.
Por isto a psicanálise não promete autossuficiência, mas uma abertura para a alteridade: o outro, a linguagem, o inconsciente. O que a diferencia radicalmente das propostas contemporâneas de autoajuda, que reafirmam o indivíduo como centro e suposto gestor integral da própria vida. A promessa de uma estabilidade na vida psíquica ancorada no autoconhecimento que serve tão bem à lógica de oferta e procura da contemporaneidade, ganha contornos mais nítidos quando analisamos sua mercantilização.
A mercantilização do autoconhecimento
Zygmunt Bauman, em Vida para consumo, mostra como a lógica do capitalismo líquido transforma o próprio eu em mercadoria. O imperativo de “ser autêntico”, “descobrir-se” e “realizar-se” é mobilizado não como liberdade, mas como exigência de constante investimento em si mesmo — cursos, terapias, livros, produtos e experiências. Com a tecnologização das relações, virtualizou-se os modos de viver e desta forma alguns processos feitos anteriormente, como por exemplo, de categorização, classificação e rejeição do sujeito,ficaram ainda mais rápidos, minuciosos e pulverizados.
As redes sociais tornaram o intercâmbio de informações pessoais a sua moeda de troca mais valiosa e os “usuários” sentem-se incubidos a cada vez entregar mais, vendem sua “intimidade” em troca de serem vistos e amados, e retroalimentam a ferramenta e por meio dela as suas próprias angústias e desejos nunca satisfeitos completamente.
Nesse contexto, até a psicanálise corre o risco de ser capturada: oferecida como técnica de aperfeiçoamento do eu, ajustada a demandas de performance, produtividade e bem-estar imediato. Aquilo que nasceu como prática subversiva pode tornar-se instrumento de domesticação, uma vez que se entra na lista de tarefas ou requisitos para uma vida (“lifestyle”) perfeita, ou que é entendida como caminho para as respostas que ainda não se têm.
Narcisismo e domesticação da psicanálise
A mercantilização do autoconhecimento e o risco de a psicanálise se tornar um instrumento de domesticação estão intrinsecamente ligados ao conceito de narcisismo cultural. Seria essa 'domesticação' um desdobramento natural ou uma traição aos princípios freudianos?
Ao reler o texto de 1917, percebemos que o próprio Freud alerta para o desconforto gerado por suas conclusões. A psicanálise, ao revelar que o eu não todo-poderoso, inevitavelmente encontra resistência. Em toda a sua obra podemos encontrar a problemática referente ao autodomínio ou domesticação dos instintos, pois esta é a principal causa de sofrimento encontrada pela teoria: a tentativa de adequação dos pensamentos e instintos a algo aceitável.
A briga pela 'regulação' da psicanálise e o movimento em direção à sua 'domesticação' nos colocam diante de um dilema central: onde reside o ponto de equilíbrio entre a subversão inerente à psicanálise freudiana e a necessidade de adaptação aos contextos contemporâneos?
Esse movimento pode ser lido como uma forma de “domesticação”: a psicanálise passa a oferecer não mais um questionamento radical, mas uma promessa de adaptação — alinhando-se à lógica do narcisismo cultural, onde o eu busca reconhecimento e valorização constantes.
Entre a subversão e a adaptação
Retomar Freud, especialmente em Uma dificuldade da psicanálise, é lembrar que a psicanálise nasceu para ferir o narcisismo humano, não para reforçá-lo. Quando se converte em ferramenta de autossuficiência, quando vira item de prateleira que pode ser comprada e vendida, ou quando é apenas parte de um check-list da vida instagramável perde sua potência crítica e se adapta ao discurso do consumo.
O desafio atual talvez não seja rejeitar o tema do autoconhecimento, mas reinscrevê-lo em outro registro: não como domínio do eu sobre si, mas como abertura para o que nele resiste, escapa e insiste. Nesse ponto, a psicanálise pode continuar a ser subversiva — desde que não se deixe capturar pelo mercado das promessas fáceis, pois em toda a sua construção e até aqui, ela não pode ser levada como manual de instruções e sim precisa ser repensada e reescrita perante as novas subjetivações e constituições de sofrimento.
Um impasse contemporâneo
Talvez o maior risco, hoje, não seja que a psicanálise seja rejeitada, mas que seja aceita demais — incorporada sem resistência ao cardápio de soluções rápidas para a vida. Mas se ela nasceu como ferida, talvez sua tarefa continue sendo a de incomodar: não oferecer um “manual de autoconhecimento”, mas abrir espaço para suportar o não-saber, o vazio, a falta que nos constitui.
Diante desse impasse, e buscando uma imagem que se assimile a situação da psicanálise hoje, vale lembrar do mito grego de Narciso e a ninfa Eco. Estaria a Psicanálise se tornando como Eco, apenas repetindo o que chega como demanda? Ou nesse ponto, a psicanálise ainda conseguiria manter sua força — deixando de prometer um eu mais forte e autossuficiente, e sim mostrando limites, corrupções e que a verdade de cada sujeito nunca está toda em suas mãos?
Bibliografia:
BAUMAN, Zygmunt. Vida para Consumo: a transformação das pessoas em mercadoria. Rio de Janeiro: Zahar, 2008.
FREUD, Sigmund. Introdução ao Narcisimo (1914). Obras Completas, vol. XII. São Paulo: Companhia das Letras, 2009.
FREUD, Sigmund. Uma dificuldade da Psicanálise (1917). Obras Completas, vol. XIV. São Paulo: Companhia das Letras, 2009.
VASCONCELOS, Paulo S. Mitos Gregos. São Paulo: Objetivo, (1998).
Conheça a Vaneska através das suas redes sociais
Instagram: @vaneskacavalcante.psicanalista
Veja os Projetos ou agende a sua sessão em: https://linktr.ee/psi.vaneska