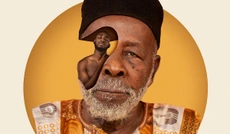Por Tatá Pereira |
A fala sempre foi um dos principais instrumentos terapêuticos da práxis psicanalítica, permitindo ao paciente acessar seus conflitos internos e expressar seus sentimentos mais profundos. No entanto, o papel da fala no setting psicanalítico contemporâneo é influenciado por uma série de fatores, incluindo avanços tecnológicos, mudanças na sociedade e abordagens dialéticas, além dos impactos gerados pela pandemia. Aqui questiono, considerando as teorias de Freud e Lacan nas contribuições basilares para a compreensão da fala na psicanálise, como essa compreensão se aplica à prática clínica atual, cujos trabalhos ainda norteiam grande parte da práxis e novas produções teóricas contemporâneas?
A fala como ferramenta clínica: fundamentação da Associação Livre
Freud foi o pioneiro na utilização da fala como instrumento terapêutico na psicanálise. Para Freud, a fala em “associação livre” permitia ao paciente acessar seu inconsciente e revelar seus conflitos mais profundos. Através deste método, o analista poderia acompanhar as conexões de pensamento do paciente e identificar padrões significativos, descartando–se a exigência de notações dos conteúdos emergidos da fala.
Como se vê, o preceito de notar igualmente tudo é a necessária contrapartida à exigência de que o analisando relate tudo o que lhe ocorre, sem crítica ou seleção. Se o médico se comporta de outra maneira, desperdiça em boa parte o ganho que resulta da obediência à “regra fundamental da psicanálise” por parte do paciente. Para o médico, a regra pode ser formulada assim: manter toda influência consciente longe de sua capacidade de observação e entregar-se totalmente à sua “memória inconsciente”, ou, expresso de maneira técnica: escutar e não se preocupar em notar alguma coisa.
Freud, 1912, p. 88
No entanto, Freud também reconheceu que a fala nem sempre era suficiente para acessar certos conteúdos inconscientes, levando-o a desenvolver técnicas, naquele momento, como a interpretação dos sonhos e a análise dos lapsos de linguagem.
Essa concepção freudiana da fala como via de acesso ao inconsciente estabeleceu as bases sobre as quais Lacan, décadas depois, ampliaria o campo de compreensão sobre linguagem e sujeito. O que Freud nomeou como expressão do inconsciente através da associação livre, Lacan retoma como um efeito da estrutura da linguagem sobre o sujeito. Assim, o que se apresentava como conteúdo a ser interpretado, na leitura lacaniana ganha contorno estrutural: a fala passa a ser lida, como um encadeamento de significantes, um “verbo-trama”¹ costurado que determina o próprio lugar de enunciação do sujeito.
O que enunciará Lacan sobre a linguagem e a fala?
Para Lacan, a fala não é apenas um meio de comunicação, mas também um sistema simbólico que organiza a experiência subjetiva do indivíduo. Ele, influenciado por Saussure, adota o conceito de significante e significado, mas invertendo a relação entre ele, postulando o que viria a ser conhecido como a primazia do significante sobre o significado
Em Saussure, o signo linguístico é uma entidade dupla, composta por um significante (a imagem acústica, a forma como a palavra soa, imagem fonética) e um significado (o conceito ou ideia que a palavra evoca, a denotação), e se relacionam entre si de forma inseparável e arbitrária, ou seja, a relação entre a palavra e o que ela representa não é natural, mas sim convencionada socialmente.

Lacan, propõe que o significante (S) e o significado (s) estão separados por uma barreira, e que o significante tem prioridade na constituição do sujeito e da experiência. O significado assume papel denotativo universal, enquanto o significante confere subjetividade, primordial ao entendimento do sujeito enquanto indivíduo, e não coletivo.

Seja como for, é na medida em que o sujeito chega ao limite do que o momento permite a seu discurso efetuar com a fala que se produz o fenômeno no qual Freud nos mostra o ponto de articulação entre a resistência e a dialética analítica. Pois esse momento e esse limite equilibram-se na emergência, fora do discurso do sujeito, do traço que pode dirigir-se mais particularmente a vocês naquilo que ele está dizendo. E essa conjuntura é promovida à função de pontuação de sua fala. Para tornar apreensível esse efeito, servimo-nos da imagem de que a fala do sujeito bascula para a presença do ouvinte.
Lacan, 1966, p. 374
Assim, a fala no setting psicanalítico contemporâneo é entendida como uma manifestação das estruturas inconscientes do sujeito, exigindo uma escuta sensível por parte do analista.
Ao situar o sujeito na linguagem, Lacan desloca o analista de uma posição de mero decodificador de conteúdos para a de interlocutor que ocupa um espaço no campo da fala do analisante. Este reposicionamento ético e clínico modifica radicalmente o manejo da sessão, fazendo com que a escuta se organize menos em torno de conteúdos manifestos e mais em torno das construções linguísticas, silêncios, lapsos e deslocamentos de sentido. Este movimento de escuta preparou, sem que se soubesse à época, o campo teórico e clínico que viria a ser desafiado em cenários de crise como o da pandemia de COVID-19, onde a linguagem e os modos de enunciação sofreriam novas inflexões, seja pela vivência de traumas em escalas múltiplas, seja pelas novas formas de se relacionar que os indivíduos formularam a partir desta vivência.
O contexto do setting psicanalítico contemporâneo pós-pandemia de COVID-19
A pandemia de COVID-19 trouxe consigo uma série de desafios para a prática psicanalítica contemporânea. O distanciamento social, o isolamento e a incerteza generalizada têm impactado não apenas a vida cotidiana das pessoas, mas também a maneira como os psicanalistas conduzem suas sessões e interações terapêuticas. Nesse contexto, é crucial revisitar as teorias de Sigmund Freud e Jacques Lacan para compreender como a fala e a escuta psicanalíticas podem ocorrer na contemporaneidade.
Freud, em seu trabalho "A Interpretação dos Sonhos" (1900), argumenta que os pacientes revelam seus desejos reprimidos e conflitos psíquicos por meio da livre associação de ideias durante as sessões psicanalíticas. Ele postulou que a fala espontânea e sem censura permite ao analista acessar os conteúdos inconscientes do paciente, essenciais para o processo terapêutico.
Além disso, explorou o conceito de transferência, ressaltando a maneira como os pacientes projetam seus sentimentos e experiências passadas nos analistas. Freud destaca a complexidade das relações transferenciais e sua influência na dinâmica da comunicação terapêutica. Essas contribuições de Freud continuam a ser fundamentais para compreender como a fala e a escuta psicanalíticas funcionam na prática clínica contemporânea.
O médico empenha-se por manter essa neurose de transferência dentro dos limites mais restritos; forçar tanto quanto possível o canal da memória, e permitir que surja como repetição o mínimo possível. A proporção entre o que é lembrado e o que é reproduzido varia de caso para caso. O médico não pode, via de regra, poupar ao paciente essa face do tratamento. Deve fazê-lo reexperimentar alguma parte de sua vida esquecida, mas deve também cuidar, por outro lado, que o paciente retenha certo grau de alheamento, que lhe permitirá, a despeito de tudo, reconhecer que aquilo que parece ser realidade é, na verdade, apenas reflexo de um passado esquecido. Se isso puder ser conseguido com êxito, o sentimento de convicção do paciente será conquistado, juntamente com o sucesso terapêutico que dele depende.
Freud, 1920, p. 11
Por sua vez, Jacques Lacan trouxe contribuições revolucionárias para a teoria psicanalítica. Em seu seminário "A Função e o Campo da Fala e da Linguagem em Psicanálise" (ESCRITOS, 1953), Lacan argumenta que a linguagem é o principal meio pelo qual o inconsciente se estrutura e se manifesta, como aqui já abordado. Ele introduziu a ideia de que a fala do paciente não apenas comunica conteúdos conscientes, mas também revela formações do inconsciente, como lapsos verbais, atos falhos e sonhos.
Tanto as contribuições de Freud quanto as de Lacan oferecem um arcabouço teórico sólido para compreender e adaptar a prática psicanalítica ao contexto contemporâneo, especialmente em um mundo pós-pandêmico, onde a fala e a escuta clínicas assumem novas dimensões e desafios.
Diante desse cenário, a compreensão da fala enquanto operador clínico adquire, na prática atual, nuances que exigem ainda mais atenção ética e escuta refinada por parte do analista. As sessões, cada vez mais atravessadas por angústias que emergem num ritmo acelerado, colocam o psicanalista diante de falas que oscilam entre o excesso e o silenciamento, entre a urgência de descarga emocional e a impossibilidade de simbolização imediata. A escuta analítica, sustentada pelas concepções freudiana e lacaniana, precisa, então, criar condições de manejo para que o analisando possa se escutar ao falar. Isso implica sustentar os tempos da fala: o tempo de enunciar, o tempo de elaborar e o tempo de ouvir-se dizendo, mesmo que à distância, mesmo em dispositivos virtuais.
Na prática clínica, esse deslocamento da fala, como perdas, lutos e rupturas psíquicas provocadas pelo contexto pandêmico, demanda do analista um trabalho de acolhimento sem ceder à tentação de interpretar precocemente. Mais do que nunca, o analista é chamado a oferecer um espaço de escuta onde a fala possa ganhar corpo, ressonância e possibilidade de elaboração. Lacan já nos apontava para a dimensão performativa da fala no setting: o que está em jogo não é apenas o que o sujeito diz, mas o que acontece com ele ao dizer. O manejo clínico, nesse sentido, passa a incorporar intervenções que visam precisamente abrir furos no discurso repetitivo, promover deslocamentos subjetivos e possibilitar novas amarrações simbólicas que sustentem o sujeito frente ao excesso de gozo e sofrimento.
Dessa forma, o percurso que atravessa as formulações de Freud até Lacan, passando pelas exigências do setting pandêmico e pós-pandêmico, mostra que a teoria clássica da psicanálise, longe de se tornar obsoleta, encontra no momento histórico atual novas formas de ser aplicada e reinventada, e nos lembra de seu caráter dinâmico, longe de ser estático, porém hermético. A escuta da fala, como eixo clínico central, permanece não apenas vigente, mas vital, exigindo do analista uma posição de abertura ao que ainda está por vir na subjetividade contemporânea.
Novas são as demandas e desafios pós-pandemia
Ao observar com lentes analíticas o período pós-pandêmico, percebe-se o quanto o contexto gestou demandas para dentro do setting atual, que muito se assemelha a outras tantas preconizadas pelos autores citados, com velocidade exacerbada e de eminente necessidade de fala por parte dos tantos que chegam à análise. A pandemia e, igualmente, o pós-período, aceleraram ainda mais as elucubrações que outrora se fariam por fatores eximidos de pressão. A procura dos indivíduos por estarem em contato com seus conteúdos verifica-se de forma contundente na atualidade e, como base, nos valemos ainda de muitos dos princípios teóricos conjecturados por ambos autores.
Ana Paula Brandão Rocha discorre em “Psicanálise em tempos de pandemia: o que pode o psicanalista?” (2020) sobre o que ainda não se sabia, mas seria posteriormente elucidado, sobre o que Freud já ressaltava sobre a pulsão de morte e o como as vivências da pandemia trouxeram o ser humano “forçado a olhar a morte nos olhos, a recebê-la em sua casa, compulsoriamente, sem que a tenha convidado, a lutar contra ela ou, resignado, buscar fazer o luto necessário para seguir em frente”. Estar em contato tão direto e intenso com um real traumático recente acelera o processo de reconhecer essa necessidade de fala, que pode ser verificado na crescente procura por psicanalistas que hoje presenciamos na nossa vivência prática. Cabe a nós, então, enquanto psicanalistas, contemporâneos neste momento histórico, dar campo para a vazão àquilo que Freud e Lacan já aludiram outrora como instrumento principal no setting: a fala do analisando.
O espaço no setting requer ética na escuta
A fala continua a desempenhar um papel fundamental no setting psicanalítico contemporâneo, permitindo ao paciente acessar seus conflitos internos e expressar suas emoções mais profundas. As contribuições teóricas de Freud e Lacan oferecem insights valiosos sobre a natureza da fala na psicanálise e sua relevância para a prática clínica atual. No entanto, é importante reconhecer que a fala não é o único meio de comunicação na abordagem psicanalítica, e que outras formas de expressão, como o corpo e os afetos, também desempenham um papel importante na análise. A junção destes instrumentos constitui a linguagem referenciada por Lacan em suas obras, dado que somente através do simbólico “metonimizado” da linguagem se é possível transitar pelo imaginário para aproximar-se do real.
Considerar o contexto cultural, histórico e sócio-político em que o indivíduo está inserido dará sentido a toda gama de significações, correlações e associações que este possa identificar em seu próprio discurso para, assim, elaborar seus conteúdos no seu processo psicanalítico através de significantes que tomam forma pela palavra falada.
E como essas considerações se articulam com a prática clínica atual?
A história da psicanálise sempre esteve atravessada pelas marcas de seu tempo. Freud formulou suas teorias em meio às guerras mundiais e aos rearranjos sociais de sua época, o que inevitavelmente impactou sua leitura sobre o sofrimento humano e o lugar da fala na constituição psíquica. Lacan, por sua vez, enfrentando as convulsões políticas, culturais e filosóficas do século XX, revisitou Freud com o rigor de uma leitura estrutural, recolocando a linguagem falada também como elemento central da constituição subjetiva e da experiência analítica. Ambos responderam, cada um a seu modo, aos desafios clínicos impostos por seus contextos históricos, reafirmando que a fala do sujeito nunca está dissociada das coordenadas culturais, políticas e sociais em que este emerge.
Na clínica atual, essa compreensão da fala como operador central do trabalho analítico segue orientando tanto a práxis quanto as novas produções teóricas contemporâneas. Em um cenário pós-pandêmico, atravessado por novas formas de sofrimento, por rearranjos dos modos de laço social e por deslocamentos culturais e políticos, a fala do analisante continua sendo o caminho privilegiado de acesso ao inconsciente. O manejo clínico, sustentado pelas formulações de Freud e Lacan, mantém-se ancorado na aposta de que é na palavra proferida, nas hesitações, nos silêncios e nos tropeços da linguagem que o sujeito pode produzir novas significações sobre sua própria história. É por isso que, na prática clínica contemporânea, torna-se fundamental ouvir não apenas o sujeito ou a narrativa que ele apresenta, mas acolher o discurso que se inscreve em sua fala e reconhecer a singularidade de sua linguagem. O que se escuta em análise não é apenas um relato de vida, mas o modo único como cada sujeito se posiciona na sua cadeia significante, operando deslocamentos que são, ao mesmo tempo, clínicos e vitais. A prática analítica de hoje, portanto, reafirma a centralidade da fala não como um mero veículo de expressão, mas como campo de produção de sentido, onde a subjetividade se reinscreve, abrindo espaço para a emergência de novos discursos e, com eles, para novas formas de elaboração teórica no campo da psicanálise. É preciso estar disposto e disponível para acolher cada discurso, despido de implicações morais próprias, para que ali algo de benéfico se produza.
-----
¹: Neologismo usado pela autora deste artigo para descrever o tecido formado pelo entrelaçamento da fala e da narrativa subjetiva
Que tal dialogarmos mais sobre a clínica contemporânea norteada pela produção clássica? Deixe sua opinião nos comentários ou me escreva!
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
- FREUD, Sigmund. Recomendações aos médicos que exercem a Psicanálise (1912). Tradução Paulo Cesar de Souza. São Paulo: Companhia das Letras
- FREUD, Sigmund. A Interpretação dos Sonhos (1900). Rio de Janeiro: Imago.
- FREUD, Sigmund. Além do Princípio do Prazer (1920). Rio de Janeiro: Imago.
- LACAN, Jacques. Escritos (1936-1966). Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor.
- ROCHA, Ana Paula Brandão. Psicanálise em tempos de pandemia: o que pode o psicanalista?. Revista brasileira de psicanálise, São Paulo, v. 54, n. 2, p. 59-72, jun. 2020. Disponível em <http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0486-641X2020000200005&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em 06 mar. 2024.
Conheça mais sobre a Tatá em:
- Instagram: @tatapsicanalista
- Site: www.psicanalistaon.com.br
- Podcast: Nós Voz Elos
- Youtube: Nós Voz Elos