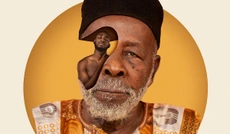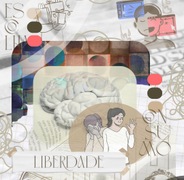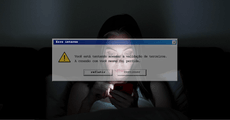Por Vaneska Cavalcante |
O mal é o outro ou mora em nós?
Se você nunca desejou algo terrível, talvez só não tenha se dado conta ainda. É com essa provocação que Robert I. Simon, psiquiatra forense e clínico, inicia o caminho reflexivo em Homens maus fazem o que homens bons sonham. Com um olhar que transita entre o tribunal e o consultório, Simon desmonta a ilusão de que o mal habita apenas o outro — o criminoso, o perverso, o doente mental.
Sua constatação é clara: todos carregamos um lado sombrio. E o perigo não está na existência desse lado, mas em negá-lo ou projetá-lo. A maldade, nesse contexto, não é uma patologia, mas sim uma expressão possível da condição humana.
É a partir desse ponto que este artigo propõe um diálogo entre o pensamento de Simon e os aportes da psicanálise freudiana. Com base em conceitos como o recalque, o narcisismo, o ideal do eu e o mal-estar na civilização, examinamos como o mal é vivido, censurado, moldado e silenciado em nome de uma ética social — muitas vezes superficial, moralista e repressiva.
O objetivo não é justificar impulsos destrutivos, mas compreender de que forma o reconhecimento do mal em nós pode se tornar um passo para a responsabilidade ética, em vez da negação e da repetição inconsciente.
O Desejo Recalcado: o que não queremos ver em nós
É importante lembrar que não somos apenas seres racionais e modernos, mas também resultado de uma longa trajetória biológica e psíquica, que permanece atuando em nós, mesmo quando acreditamos tê-la superado. Nossas experiências primitivas — tanto da espécie quanto da infância — não desaparecem. Elas são modificadas, deslocadas, recalcadas... mas continuam presentes.
Esses conteúdos psíquicos, que foram fundamentais para a construção de quem somos hoje, não se apagam: são sobrepostos por novas camadas culturais e simbólicas, mas conservam sua força no inconsciente. Por isso, mesmo aquilo que julgamos ultrapassado pode retornar como desejo, sintoma ou angústia, especialmente quando tentamos negar sua existência.
Nesse ponto, Freud nos lembra, em O Mal-Estar na Civilização:
A vida, tal como nos coube, é muito difícil para nós, traz demasiadas dores, decepções, tarefas insolúveis. Para suportá-la, não podemos dispensar paliativos.
Essa constatação nos leva diretamente à próxima questão: o que a cultura faz com esses desejos recalcados?
Freud e a repressão civilizatória
No trecho citado anteriormente, Freud é claro ao afirmar que o propósito fundamental da vida humana é a busca da felicidade — entendida como a obtenção de prazer e a evitação do desprazer. No entanto, ele mesmo reconhece que essa meta só pode ser atingida de forma episódica, já que a dor e o sofrimento não vêm apenas do mundo externo, assim como o prazer não é gerado unicamente a partir de fontes internas (Freud, 1930, p. 30–31).
Se seguirmos esse raciocínio às últimas consequências, perceberemos, como aponta Robert Simon, que uma forma extrema — mas lógica — de reduzir o sofrimento seria eliminar quem identificamos como ameaça ou fonte de dor: nossos “inimigos”. Tal ato, se considerado isoladamente, poderia até ser visto como um caminho para o alívio. No entanto, é justamente nesse ponto que o “mal” emerge: como resposta pulsional violenta incompatível com os acordos morais e civilizatórios que regulam a convivência humana.
Simon provoca: “Se pudéssemos apertar um botão e eliminar nossos rivais ou inimigos impunemente, quantos de nós resistiriam à tentação?” E aqui se revela a tensão essencial: a vida em sociedade exige repressão das pulsões mais primitivas — especialmente a agressividade — para preservar o bem comum. Mas essa repressão, por sua vez, gera mal-estar, pois impede a descarga plena de desejos intensos e ambivalentes.
Estar em civilização, portanto, é também carregar o custo psíquico de conter impulsos que, se liberados, poderiam ameaçar o outro — e também a nós mesmos. As leis, normas e costumes funcionam como uma espécie de “barreira simbólica” que reprime o gozo ilimitado em nome da ordem. Mas esse controle não apaga o desejo: apenas o recalca, desloca ou transforma em sintoma.
Para compreender melhor esse impasse civilizatório, é importante retomarmos a segunda tópica do aparelho psíquico, proposta por Freud. Nela, a psique é estruturada por três instâncias em constante tensão dinâmica.
O Id, chamado por Freud de “a coisa”, é o núcleo pulsional mais primitivo, onde se originam os desejos, impulsos e fantasias — uma espécie de reservatório das pulsões que buscam realização imediata. Ele opera segundo o princípio do prazer, alheio à lógica, à moral ou à realidade. Nesse sentido, o Id guarda resquícios do “homem primitivo”, com quem ainda compartilhamos afetos e impulsos.
O Superego, por sua vez, é uma construção civilizatória. Ele emerge a partir da internalização das normas, da cultura, das figuras parentais e sociais. Representa a instância que exige disciplina, repressão e punição. Nele se fundem o ideal do eu, a consciência moral e o olhar julgador que o sujeito volta contra si mesmo. É a partir dessa instância que operam os mecanismos de recalque e repressão, gerando conflitos internos profundos — muitas vezes acompanhados por culpa e vergonha.
Entre essas duas forças, o Ego tenta equilibrar os desejos do Id e as proibições do Superego. Embora busque se apresentar como racional, o Ego está muitas vezes mais próximo do ideal do que do real sujeito, funcionando como uma “máscara adaptativa” que negocia a sobrevivência do indivíduo entre suas exigências internas e as exigências externas da realidade.
Freud nos mostra que, mesmo diante de uma repressão bem-sucedida, as pulsões não desaparecem: elas persistem, deslocam-se, transformam-se — e, quando não encontram uma via de simbolização ou sublimação, retornam como sintomas ou sofrimento.
Essa compreensão psicanalítica ecoa diretamente o alerta de Robert Simon: o “mal” que identificamos nos outros não é alheio a nós — ele habita o próprio Id. A cultura pode reprimi-lo, moralizá-lo ou desviá-lo, mas não o extingue. Ignorar essa dimensão psíquica apenas aumenta seu poder, pois o recalque bem-sucedido é também o que mais alimenta o retorno do recalcado.
“Os homens maus fazem o que os homens bons sonham.”
Mas às vezes — completa a psicanálise — os homens bons adoecem por sonhar demais e realizar de menos.
O Espelho de Simon: o mal como sombra cotidiana
Na obra utilizada como base deste artigo, Simon – psiquiatra clínico e forense – não busca separar o ser humano entre bons e maus, mas sim demonstrar que essa divisão pode ser mais quantitativa do que qualitativa. Ele aproxima exemplos extremos dos tribunais a situações comuns da clínica, e com isso propõe uma visão perturbadora, mas profundamente realista:
A diferença básica entre o que a sociedade considera como boas ou más pessoas não é uma questão de tipo, mas sim de grau, e envolve habilidades do mal para traduzir impulsos obscuros em ações obscuras.
Simon, 2008, p. 27
Simon nos convida a abandonar a zona de conforto moral, sugerindo que é somente ao reconhecer essa sombra em nós que podemos dirigir melhor suas forças. Aqui, a ponte com Freud se faz novamente necessária: o inconsciente não é seletivo, não distingue entre o “moralmente aceito” e o inaceitável, ele apenas impulsiona, cobra e retorna. Como Freud afirma, "o que é recalcado retorna", muitas vezes em formas deformadas, sintomáticas ou destrutivas.
Assim, o autor nos provoca: e se a única diferença entre nós e aqueles que julgamos como “maus” for apenas a forma como conseguimos simbolizar, adiar ou subverter nossos impulsos? E se todos nós, em alguma medida, carregamos o germe da destruição, do ódio, da inveja — ao lado do amor, da empatia e do cuidado?
Algo que ressoa no texto de Simon e pode ser conectado com a ideia de Arendt sobre o mal como algo banal e cotidiano é que, mesmo que a cultura contemporânea reprima a violência e certos desejos, ela os alimenta de forma simbólica e altamente atrativa — em filmes, séries, reportagens e espetáculos midiáticos.
Você nunca se perguntou por que tantas produções de terror e violência, com públicos e temas tão variados, atraem tantas pessoas? Será que não estamos, inconscientemente, buscando nesses produtos culturais uma satisfação simbólica para impulsos destrutivos que não podemos realizar diretamente? Uma forma socialmente permitida de contato com o que há de mais inquietante em nós?
Cotidiano sombrio: quando o mal se disfarça de normalidade
Assim como em Arendt, encontramos na obra de Simon a provocação sobre os grandes nomes historicamente conhecidos como personificação do “verdadeiro mal” — como Hitler, Stalin e outros responsáveis por genocídios e assassinatos em larga escala. No entanto, esses líderes não agiram sozinhos: suas ações foram viabilizadas e até facilitadas por homens e mulheres que, em sua defesa, alegaram apenas “cumprir ordens”, como se não fossem sujeitos pensantes, capazes de refletir sobre as consequências de seus próprios atos.
É justamente nesse ponto que reside o grande perigo de se externalizar o mal, de vê-lo como algo alheio e não reconhecê-lo como uma dimensão possível e constitutiva de todos nós. Essa negação abre espaço para que nos abstenhamos da responsabilidade sobre pequenas hostilidades cotidianas, desejos agressivos ou fantasias sexuais sádicas — conteúdos que, muitas vezes, permanecem recalcados e reaparecem como sintomas ou comportamentos socialmente "inadequados".
Como nos mostram Homens Maus Fazem o que Homens Bons Sonham e Eichmann em Jerusalém, essas manifestações podem se dar em atos sutis e socialmente aceitos, mas nem por isso menos destrutivos: saques após desastres, fraudes no imposto de renda ou no seguro, trotes humilhantes em universidades, relações afetivas ou profissionais marcadas pelo abuso de poder e controle, e comentários racistas, sexistas, gordofóbicos ou homofóbicos disfarçados de “opinião” ou “piada”. São comportamentos que perpetuam estruturas de exclusão e violência simbólica — e que, como enfatiza Simon, não são praticados por pessoas “monstruosas”, mas por indivíduos “normais”, movidos por impulsos antissociais oportunistas.
Como dizia Freud:
O ego não é senhor em sua própria casa.
Freud, 1917
Essas expressões de crueldade banalizada — muitas vezes não criminalizadas, mas naturalizadas — evidenciam que a pulsão de destruição não está ausente de nossas vidas. Ela apenas veste novas máscaras. O verdadeiro risco, portanto, não é o mal em si, mas a recusa em reconhecê-lo — o que nos impede de transformá-lo.
Encarar o Espelho, Não o Monstro
Olhar para dentro de si e encontrar impulsos inaceitáveis pode ser profundamente perturbador — como já alerta Robert I. Simon. No entanto, ignorar essa realidade nos torna ainda mais vulneráveis a ela, especialmente quando confrontados com situações extremas.
Reconhecer a própria ambiguidade nos torna menos propensos a projetar frustrações em terceiros e mais aptos a agir com empatia e responsabilidade. Afinal, até mesmo os chamados "maus" podem expressar amor, cuidado e generosidade — o que só reforça a complexidade do humano.
Conhecer o mal é um ato de responsabilidade
Este artigo, assim como a obra de Simon, propõe uma provocação: e se o mal não for uma exceção patológica, mas uma possibilidade presente em todos nós? O objetivo foi convidar o leitor a abandonar uma visão simplista de mundo dividida entre bons e maus, e entender que as pulsões humanas — como mostra Freud — se expressam em diferentes graus e contextos, sendo reprimidas em alguns momentos e potencializadas em outros.
Como nos lembra Arendt, a banalidade do mal se manifesta exatamente quando deixamos de refletir sobre nossos atos e naturalizamos pequenas violências do cotidiano. E Freud já dizia em Introdução ao Narcisismo:
O indivíduo tem de fato uma dupla existência, como fim em si mesmo e como elo de uma corrente, à qual serve contra – ou, de todo modo, sem – a sua vontade.
Freud, 1914
O mal, portanto, não é apenas uma exceção ou uma doença — é uma parte constitutiva da experiência humana. E talvez, em última instância, a defesa mais eficaz contra ele não seja negá-lo ou projetá-lo nos outros, mas sim reconhecê-lo como nosso.
A ética psicanalítica, nesse sentido, não se constrói sobre a ilusão de pureza, mas sobre a aceitação da complexidade do desejo. Porque, no fim, o verdadeiro perigo talvez não esteja nos homens maus — mas naqueles que se acreditam apenas bons.
Bibliografia:
Simon, R. I. (2008). Homens maus fazem o que homens bons sonham. Porto Alegre: Artmed.
Freud, S. (1914). Introdução ao Narcisismo. São Paulo: Companhia das Letras.
Freud, S. (1930). O Mal-Estar na Civilização. São Paulo: Companhia das Letras.
Arendt, H. (2001). Eichmann em Jerusalém: Um Relato sobre a Banalidade do Mal. São Paulo: Companhia das Letras.
Conheça a Vaneska através das suas redes sociais
- Instagram: @vaneskacavalcante.psicanalista
- LinkedIn: @vaneskacavalcante
- Facebook: Psi Vaneska Cavalcante
- Youtube: Nós Voz Elos