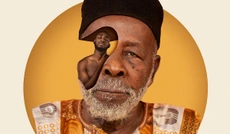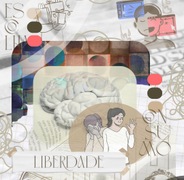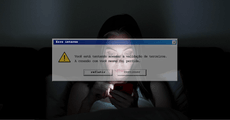Por Tatá Pereira |
Lacan, em seu Seminário XI, reformulou o conceito freudiano de sublimação, que tinha como prerrogativa ser um processo em que a libido é deslocada para objetos aceitos pela coletividade, produzindo empreendimentos artísticos, científicos e religiosos que elevam a experiência humana. Enfatizou que sublimar implica inscrever a pulsão no registro simbólico, gerando um “resto pulsional” que fundamenta o desejo. A partir dessas duas perspectivas, poderíamos supor que a sublimação não se reduz a um desvio pulsional, mas constitui um gesto simbólico que assegura tanto a estabilidade subjetiva quanto o ordenamento cultural que articula o desejo inconsciente às normas coletivas, sustentando a coesão social?
O nascimento de uma forma de expressão
Para dar início ao processo maiêutico aqui desencadeado, trarei à luz dois textos basilares da psicanálise que que serão de forma simbólica parturientes para o que desejo enunciar. Em O Ego e o Id (Freud, 1923), a sublimação é descrita como ato de “elevar” o objeto ao permitir que a libido encontre expressão em atividades compatíveis com as demandas sociais. Posteriormente, em O Mal-Estar na Civilização (Freud, 1930), o psicanalista aprofunda o tema, afirmando que a sublimação é o “preço” que pagamos pela civilização: ao renunciar à gratificação imediata, produzimos um “lucro cultural” que sustenta a vida em comunidade (p. 90).
A sublimação consiste em desviar a energia libidinal de suas formas primitivas para empreendimentos socialmente aceitos, como a arte, a ciência e a religião, de modo que a pulsão encontre satisfação parcial em conformidade com a coletividade
Freud, 1923, p.47
Sublimar, portanto, é direcionar a energia libidinal na linguagem, de modo que cada obra de arte, cada descoberta científica ou cada prática ritual constituam canais que ligam o sujeito ao Outro social e, ao dar vida à essas manifestações, se evitam também angústias decorrentes de frustrações, gerando um lucro sociocultural. Nessa hiância entre sujeito e o Outro social se constitui um diálogo constante entre seus desejos internos e as normas externas, um conflito mediado pelo agente psíquico nomeado como Superego.
Ora, se há um conflito entre o que se deseja e aquilo que se exige do sujeito (e não por ele), ao oferecer uma via para investir a energia pulsional em projetos valorizados pelo meio, contribui-se para a formação do “eu”. O sujeito, ao sublimar, assume responsabilidade ética e cultural diante de sua própria libido e diante do meio, estruturando-se como agente que transcende a busca de prazer imediato e desloca e/ou desliza o gozo para outra esfera. Decorrente dessa manobra, a lei simbólica estabelece limites à busca de gozo imediato, mas também configura o campo onde a pulsão pode circular sob outra forma, instaurando o que Lacan nomeará de Nome-do-pai, cuja falta de inscrição como mediação simbólica evadem do sujeito, resultando em sintomas ou atos fora da linguagem.
Ao sublimar, o sujeito não elimina a pulsão: ele a insere no discurso, gerando um resíduo pulsional—o resto—que persiste como marca de falta e orienta o desejo
Lacan 1964, p.168
Nesse deslocamento, a satisfação direta cede lugar à criação de significados duradouros. Cada produção artística ou científica carrega a marca do “resto pulsional” e, por meio dessa marca, o sujeito afirma seu laço com o Outro simbólico. Ao sublimar, o sujeito aceita a falta estrutural e encontra, na representação da linguagem, o meio de transformar a pulsão em obra reconhecida pelo Outro.
Sublimação, então, é mocinha ou vilã?
O caráter positivo da sublimação reside no fato de que ela não cria sintomas, mas produz bens simbólicos que enriquecem a cultura, preserva o equilíbrio psíquico individual ao oferecer saídas criativas para tensões internas e evita que estas se manifestem de forma patológica.
Quando esses referenciais simbólicos perdem força ou entram em crise, manifesta-se um aumento do mal-estar coletivo, pois faltam vias legítimas para canalizar a energia libidinal em projetos socialmente aceitos. De uma forma bastante prática e recente, o impacto psíquico da sublimação como benfeitor social pôde ser amplamente observado no período pandêmico, momento em que as manifestações artísticas acharam meios de existir para alívio da coletividade que, naquele contexto, encaravam morte de forma aterrorizante. É possível inferir, então, que a sublimação faz papel duplo nesta trama, atua simultaneamente como mecanismo de defesa individual e como fator estruturante da coesão social.
Do ponto de vista cultural, as produções resultantes da sublimação (obras literárias, pesquisas científicas, composições musicais, etc.) constituem repertórios simbólicos que atravessam tempo e espaço, oferecendo pontos de referência comuns. Esses referenciais alimentam tradições artísticas e científicas, sustentam instituições educacionais e servem de base para debates éticos e políticos.
Por outro lado, a sublimação pode tensionar normas estabelecidas, pois inovações artísticas ou científicas frequentemente enfrentam rejeição inicial por serem via de manifestação política, de contrapor repressões, de gritar o que o Outro cala e atualizam os significantes coletivos promovendo, muitas vezes, transformações sociais.
Em suma:
A partir dos textos freudianos e do Seminário XI de Lacan, evidencia-se que a sublimação tal qual a transferência vai para além do que a palavra é capaz de suportar, além de mera defesa psíquica: é um gesto simbólico que garante a saúde subjetiva e a vitalidade cultural.
- Em Freud, a sublimação é ato de “elevar o objeto”, gerando “lucro cultural” e permitindo que a pulsão encontre expressão em atividades legitimadas pela coletividade.
- Em Lacan, a sublimação só se concretiza se a pulsão for deslocada ao simbólico, onde produz um “resto pulsional” e funda o laço com o Outro social.
Assim, a hipótese de que a sublimação atua simultaneamente como defesa individual e como fundamento da coesão social confirma-se: ao produzir obras que circulam no tecido simbólico, o sujeito reforça o repertório coletivo de significantes, mantendo vivo o pacto entre desejo e norma. No trabalho analítico, se faz importante estimular a descoberta de canais criativos para a pulsão, e que as instituições culturais continuem a fomentar as produções oriundas desse processo, fortalecendo as bases simbólicas que sustentam a convivência civilizada e sustentando a coesão do sujeito inscrito no contexto social.
Que tal dialogarmos mais sobre a clínica contemporânea norteada pela produção clássica? Deixe sua opinião nos comentários ou me escreva!
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
FREUD, Sigmund. O Ego e o Id. In: Obras Completas, vol. 19. São Paulo: Cia das Letras, 2002.
FREUD, Sigmund. O Mal-Estar na Civilização. In: Obras Completas, vol. 21. São Paulo: Cia das Letras, 2002.
LACAN, Jacques. Seminário XI: Os Quatro Conceitos Fundamentais da Psicanálise. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1964.
ROUDINESCO, Élisabeth. Dicionário de Psicanálise. São Paulo: Cia das Letras, 2006.
Conheça mais sobre a Tatá em:
- Instagram: @tatapsicanalista
- Site: www.psicanalistaon.com.br
- Podcast: Nós Voz Elos
- Youtube: Nós Voz Elos